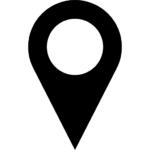Aqueduto das Águas Livres
Europa,
Portugal,
citta, Lisboa,
Campolide
O Aqueduto das Águas Livres, uma obra majestosa e representativa da capacidade de engenharia do século XVIII, ergue-se como um testemunho silencioso da história de Lisboa. Sua construção, iniciada em 1731 por decreto do rei João V, representa uma tentativa ambiciosa e bem-sucedida de resolver os problemas de abastecimento de água da cidade, que na época sofria de uma crônica escassez de água potável. Financiado através de um imposto sobre bens de consumo como carne, vinho e azeite, o aqueduto foi projetado para aproveitar as fontes naturais localizadas a noroeste de Lisboa.
A ideia de construir um aqueduto que levasse água a Lisboa foi inicialmente proposta pelo Procurador da Cidade, que em 1728 sugeriu um imposto especial para arrecadar os fundos necessários. O projeto contou com a colaboração de figuras proeminentes da época, incluindo o italiano Antonio Canevari, o alemão Johann Friedrich Ludwig e o português Manuel da Maia. Embora Canevari tenha iniciado o projeto, foi Manuel da Maia quem o levou adiante, definindo o percurso e as características técnicas.
O aqueduto se estende por cerca de 58 quilômetros, desde o ponto de captação de água em Belas até os vários pontos de distribuição na cidade. Seu trecho mais icônico é sem dúvida o que atravessa o vale de Alcântara, onde uma sequência de 35 arcos monumentais se eleva majestosamente até 65 metros de altura. Este segmento, conhecido como Arco Grande, é um símbolo de resistência e beleza, tendo até resistido ao devastador terremoto de 1755 que destruiu grande parte de Lisboa.
A realização do aqueduto não foi isenta de dificuldades e controvérsias. Em 1744, após a morte de Custódio Vieira, a direção dos trabalhos passou para Carlos Mardel, um arquiteto húngaro que teve que tomar decisões cruciais para a conclusão da obra. Entre elas, a escolha da localização do reservatório principal, a Mãe d’Água. Originalmente prevista em São Pedro de Alcântara, sua construção foi transferida para Amoreiras, uma decisão que gerou debates, mas que se revelou estratégica para a distribuição de água na cidade.
O reservatório de Mãe d’Água, concluído em 1834, é em si um feito de engenharia. Com uma capacidade de 5.500 metros cúbicos, servia como principal ponto de coleta e distribuição para toda a rede da cidade. Hoje, esse espaço foi transformado em um museu, onde os visitantes podem explorar a história do sistema de água de Lisboa e admirar a vista panorâmica do seu telhado.
O aqueduto permaneceu em operação até a década de 1960, quando foi gradualmente substituído por infraestruturas mais modernas. No entanto, sua presença continua a marcar a paisagem urbana de Lisboa, não apenas como um monumento histórico, mas também como um símbolo de uma cidade que soube enfrentar e superar os desafios de sua época.
Do ponto de vista arquitetônico, o Aqueduto das Águas Livres é um magnífico exemplo de barroco e neoclassicismo, uma combinação de estilos que reflete a época de sua construção. Suas arcadas elegantes e poderosas, feitas com precisão geométrica, conferem à estrutura como um todo uma majestosidade atemporal. Cada arco é um testemunho da habilidade dos engenheiros e artesãos da época, capazes de realizar uma obra não apenas funcional, mas também esteticamente impressionante. Entre as histórias curiosas, vale a pena mencionar que o aqueduto foi palco de episódios curiosos e trágicos. Durante o século XIX, foi usado por criminosos como esconderijo e rota de fuga, já que sua extensão permitia atravessar a cidade sem ser visto. O mais famoso desses foi Diogo Alves, um bandido que usava a estrutura para roubar e às vezes matar transeuntes, jogando então seus corpos do topo dos arcos.
Leia mais